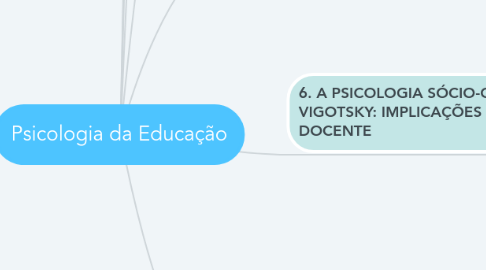
1. Considerada uma das disciplinas do núcleo específico das ciências da educação, está voltada p/ o estudo dos processos educativos (SALVADOR, 1999, p. 48).
2. 1. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO - BEHAVIORISMO
2.1. CONSEQUÊNCIAS REFORÇADORAS: coerção, nota
2.2. Interessa-se em estudar alguns comportamentos sem diferenciar se eles são abertos, como o falar, ou encobertos, como o pensar, o sentir, o meditar e o calcular
2.3. REFORÇADORES NATURAIS: livro, pessoas, biblioteca (ambiente)
3. BEHAVIORISMO METODOLÓGICO – WATSON
3.1. Não estuda pensamentos e emoções.
3.2. Comportamento reflexo - ex: salivação
3.3. Condicionamento reflexo - ex: salivação, sino, alimento
4. BEHAVIORISMO RADICAL – SKINNER
4.1. COMPORTAMENTO OPERANTE – não exclui as emoções o pensamento criativo
4.2. CONDICIONAMENTO OPERANTE - são ações associados à uma consequência. Ex: Contar piada e, festas pode ser reforçador.
5. IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
6. 2. A PSICOLOGIA GENÉTICA DE JEAN PIAGET E A EDUCAÇÃO
6.1. Momentos diferentes do desenvolvimento.
6.2. Ordem necessária. (faixa etária da criança, mas não é determinista)
6.3. São características permanentes Independentes da cultura.
6.4. Genético no sentido de gênese.
7. Período sensório motor ( 0 a 2 anos)
7.1. Inteligência prática.
7.1.1. (ação motora, visual)
8. Período operatório: 2 a 12 anos
8.1. Pré-operatório: 2 ao 7 anos
8.1.1. (representação _ função simbólica)
8.2. Operatório Concreto: 7 ao 12 anos.
8.2.1. ( pensamento apoiado ainda nos objetos).
8.3. Operatório formal: A partir dos 12 anos
8.3.1. ( pensar sobre o próprio pensar - abstração).
9. Assimilação, Acomodação.
9.1. O Sujeito procura desvendar o Objeto trazendo-o para dentro desses referenciais, chamados ESQUEMAS COGNITIVOS.
9.1.1. O equilíbrio, ainda que provisório, representa conhecimento, mas é logo seguido por novas situações em que a pessoa é novamente desafiada, o que dá início a sucessivas ASSIMILAÇÕES e ACOMODAÇÕES, mais conhecimento, outros desequilíbrios e assim por diante.
10. DESENVOLVIMENTO MORAL
10.1. Conjunto de regras e princípios que regulam a convivência.
10.2. Respeito que ele adquire por essas regras, não só para si, como para os outros.
10.3. Os dois tipos extremos de relações sociais (coação e cooperação) levam a dois tipos de moralidade: HETERONOMIA e AUTONOMIA.
10.3.1. O sujeito HETERÔNOMO do ponto de vista moral precisa obedecer às regras impostas pelo mundo exterior.
10.3.1.1. O sujeito AUTÔNOMO obedece àquilo que sabe ser o melhor para si e para o mundo.
10.4. ANOMIA - para ela, um universo sem norma - prazer individual. Egocentrismo.
11. 3. CONTRIBUIÇÕES DE HENRI WALLON NO ENTENDIMENTO DOS PROCESSOS COGNITIVOS E AFETIVOS NA EDUCAÇÃO
11.1. ESTUDO DAS EMOÇÕES: primeiras manifestações afetivas.
11.1.1. Ao longo desse processo, a afetividade e a inteligência se alternam.
11.1.2. Afetividade – a partir das emoções é que se desenvolve a inteligência. ( cognição)
11.1.3. A AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM como um fator primordial para o desenvolvimento da cognição
11.2. ESTÁGIOS
11.2.1. Estágio IMPULSIVO-EMOCIONAL: do nascimento até aproximadamente o 1º ano de vida.
11.2.1.1. É um estágio predominantemente afetivo, não possui coordenação motora muito bem desenvolvida, os movimentos são bem desorientados.
11.2.2. Estágio SENSÓRIO-MOTOR e PROJETIVO: Dos três meses de idade até aproximadamente o 3º ano de vida.
11.2.2.1. É uma fase onde a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos. Inteligência prática, obtida pela interação de objetos
11.2.3. Estágio do PERSONALISMO: Indo dos 3 aos 6 anos de idade (aproximadamente)
11.2.3.1. a cç tende a apresentar a 'crise negativista': acaba por se opor sistematicamente ao adulto.
11.2.4. Estágio CATEGORIAL
11.2.4.1. A cç começa a abstrair conceitos concretos e começa o processo de categorização mental onde a criança tem um salto em seu desenvolvimento humano.
11.2.5. Estágio da ADOLESCÊNCIA: Inicia-se por volta dos 11 ou 12 anos de idade.
11.2.5.1. O adolescente passa a desenvolver sua afetividade de forma mais ampla. A busca da autoafirmação e desenvolvimento sexual marcam esse estágio
12. CAMPOS FUNCIONAIS:
12.1. Categorias de atividades nas quais a cognição está alicerçada
12.1.1. movimento
12.1.1.1. Impulsivo, expressivo, práxico, ideomovimento
12.1.2. afetividade
12.1.2.1. Emoção, afetividade simbólica, afetividade racional
12.1.3. inteligência
12.1.3.1. Inteligência sincrética, inteligência categorial
12.1.4. pessoa
12.2. Nos estágios impulsivo-emocional, personalismo, puberdade e adolescência, nos quais predomina o MOVIMENTO PARA SI MESMO há uma maior prevalência do CONJUNTO FUNCIONAL AFETIVO.
12.2.1. Nos estágios sensório-motor e projetivo e categorial, nos quais o MOVIMENTO SE DÁ PARA FORA, para o conhecimento do outro, o predomínio é do conjunto funcional cognitivo.
13. CONTRIBUIÇÃO DE WALLON
13.1. afetivo e o cognitivo, entendidos como movimento dialético entre afetividade, cognição, níveis biológicos e socioculturais. (ENTENDE A CRIANÇA COMO UM TODO).
14. 4. FREUD: PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO
14.1. O inconsciente e a existência de uma sexualidade infantil (libido).
14.1.1. Nossa personalidade é formada por três instâncias:
14.1.1.1. ID ( isso, por que fiz isso) –pulsões, dos desejos e paixões. Ele é inato.
14.1.1.2. EGO – razão e senso comum.
14.1.1.3. SUPER EGO – inconsciente. Freia o Id.
14.2. FASES DE DESENVOLVIMENTO
14.2.1. Fase de desenvolvimento ORAL
14.2.2. Fase de desenvolvimento ANAL
14.2.3. Fase FÁLICA. ( Complexo de édipo) – 4 anos, meninos ok, controvertido o estudo nas meninas.
14.2.3.1. MECANISMO DE SUBLIMAÇÃO: deslocamento de libido para fins socialmente aceitáveis – atua fortemente nessa fase.
14.2.4. FASE GENITAL de desenvolvimento da libido
14.2.4.1. Geram fenômenos que conhecemos como crise da adolescência
14.3. TRANSFERÊNCIA
14.3.1. - Os vínculos, positivos ou negativos, têm origem no passado, especialmente na infância do paciente/professor ou aluno. (nossa história, identificação com pai/mãe – aluno/professor).
14.3.1.1. PROFESSOR (a) dada a situação em questão não pode assumir o papel do psicoterapeuta, e sua conversa com o aluno deve limitar-se a uma conversa de um (a) professor (a) interessado (a) pelos problemas e pelo bem-estar do aluno.
15. 5. A PSICOLOGIA SOCIOCONSTRUTIVISTA DE VIGOTSKY: A CONSTRUÇÃO DE FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES
15.1. Da cultura que retiramos os sistemas simbólicos de representação da realidade.
15.1.1. PROCESSOS ELEMENTARES são de origem biológica;
15.1.2. FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES são de origem sóciocultural.
15.1.2.1. São historicamente produzidas e essa produção só é possível com aprendizagem.
15.1.3. ESTÁGIO PRÉ-LINGUÍSTICO DO PENSAMENTO: existe uma inteligência prática que permite à criança realizar ações mesmo sem utilizar a linguagem como um sistema simbólico.
15.2. LINGUAGEM
15.2.1. A ferramenta que nos torna humanos.
15.2.1.1. Marx - mediador é o trabalho
15.2.1.1.1. Vigotsky – mediador é a linguagem)
15.2.2. Linguagem e pensamento estão fortemente conectados.
15.2.3. INTERNALIZAÇÃO
15.2.3.1. Processo a partir do qual interiorizamos elementos da cultura. ( signos – ex: mesa)
15.3. NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO:
15.3.1. Nível de desenvolvimento ATUAL ou REAL:
15.3.1.1. capacidade já desenvolvida- faz sozinha
15.3.2. Zona de desenvolvimento próximo, proximal ou imediato
15.3.2.1. não faz sozinha, mas é capaz de realizar com a ajuda de companheiros mais experientes)
16. 6. A PSICOLOGIA SÓCIO-CONSTRUTIVISTA DE VIGOTSKY: IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA DOCENTE
16.1. O potencial humano não se concretiza por si só, natural ou automaticamente;
16.1.1. no caso do desenvolvimento do pensamento científico, próprio dos conteúdos escolares, é necessária a intervenção do professor, na metáfora do texto, “executante treinado” que cria as condições de existência de um processo mediado, intencional, especializado e planejado que deve partir dos conhecimentos retrospectivos dos alunos e prospectar novas aprendizagens.
17. 7. GENÉTICA DO COMPORTAMENTO
17.1. Área de intersecção entre a genética e as ciências do comportamento (psicologias)
17.2. Aplicação da genética ao estudo do comportamento
17.2.1. Estudo dos fatores ou determinantes genéticos e neurobiológicos no comportamento humano e animal
17.3. COMPORTAMENTO
17.3.1. Conjunto de atitudes e reações do indivíduo
17.3.2. É influenciado por fatores BIOLÓGICOS e AMBIENTAIS
17.4. MÉTODOS DE ESTUDO
17.4.1. FAMÍLIAS
17.4.1.1. Utilizam a comparação dos indivíduos parentado e suas semelhanças expressas
17.4.1.1.1. As experiências nas famílias de convivência, nas relações sociais e laborais, ajudam a moldar a personalidade, mas, por outro lado, as escolhas vivenciais são altamente influenciadas pelo tipo de temperamento
17.4.2. GÊMEOS
17.4.2.1. Baseiam-se na comparação de gêmeos monozigóticos e dizigóticos
17.4.2.1.1. Gêmeos possuem a mesma carga genética portanto, o mesmo DNA
17.4.3. E CASOS DE ADOÇÃO
17.4.3.1. Pode-se medir a influência da herança e do ambiente
17.4.3.1.1. LIMITAÇÕES:
17.4.4. GALTON e PERSON
17.4.4.1. Desenvolveram métodos estatísticos para medir as semelhanças e diferenças entre os indivíduos quanto a certas características do comportamento
17.4.4.2. GALTON primo de Darwin, se interessava pela inteligência humana. criou o termo NATUREZA e CRIAÇÃO buscando respostas para as diferenças individuais nas capacidades cognitivas
18. CRIAÇÃO X NATUREZA
18.1. NATUREZA:
18.1.1. Material genético que carregamos resultado de toda nossa evolução (ancestralidade), características vantajosas a ponto de permanecerem na evolução
18.1.1.1. PATRIMÔNIO GENÉTICO: Herança genética que herdamos de nossos pais
18.2. CRIAÇÃO:
18.2.1. Tudo o que é externo a natureza. Todos os ambientes aos quais somos submetidos.
18.2.2. FATORES AMBIENTAIS
18.2.2.1. Estímulos intrauterinos
18.2.2.2. estímulos na infância
18.2.2.3. ambiente familiar
18.2.2.4. ambiente escolar
18.2.2.5. alimentação
18.2.2.6. todas as experiências possíveis
18.3. Este debate é antigo e era conhecido como RACIONALISMO X EMPIRISMO
18.3.1. DESCARTES: postulva que as ideias dos humanos eram componentes INATOS , não precisam de experiência
18.3.1.1. NATUREZA
18.3.2. JOHN LOCKE: todos os indivíduos nascem como tábulas rasas e vamos adquirindo comportamentos e habilidades ao longo dos anos
18.3.2.1. CRIAÇÃO
18.4. MODELO INTERATIVO
18.4.1. Defende que tanto os fatores genéticos quanto os ambientais são igualmente importantes, diferente do modelo aditivo que adiciona porções do que considera importante, ex: 20% genético, 80% ambiente
18.4.1.1. 100% GENÉTICO
18.4.1.2. 100% AMIBENTAL
19. GENES E AMBIENTE
19.1. HEREDITARIEDADE
19.1.1. Herança genética.
19.1.1.1. Características que não possuem variação dentro da espécie
19.2. HERDABILIDADE
19.2.1. Características que tem varição dentro da população.
19.2.1.1. Traços comuns dentro da espécies , mas com algumas variações individuais, ex: altura.
19.2.2. É o termo mais utilizado nos casos dos COMPORTAMENTOS, ex: personalidade, criatividade
19.2.3. Pode mudar de uma população para outra ou de um período para o outro
20. INOVAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO GENÉTICA
20.1. Alguns de nossos genes podem permanecer INATIVOS por toda vida. Muitos genes só são ativados por meio de estímulos externos.
20.2. INOVAÇÃO GENÉTICA
20.2.1. Possibilidade de crescimento da herdabilidade, resultado da ativação de genes até então inativos.
20.2.2. Pode ser desencadeada por qualquer estímulo novo, ex: hormônios na puberdade, mudança de cidade ou escola.
20.2.3. INFÂNCIA: fase mais comum da ocorrência da inovação genética
20.3. AMPLIFICAÇÃO GENÉTICA
20.3.1. Possibilidade do aumento da ampliação de ação de um gene
20.3.2. Ex: ambientes geneticamente condicionados. Uma pessoa é exposta na infância a diversos estímulos e "escolhe" a LEITURA. Ele terá amplificação dos genes ligado a este estímulo e não a genes do esporte ou a música por ex.
20.3.3. Predomínio nas demais fases
20.4. Os genes relevantes para cada contexto ambiental serão ativados na infância, ocorrem no fenômeno de inovação genética.
20.4.1. Os genes ativados na infância podem permanecer ativos por toda a vida, porém, se o contexto favorece o uso destes genes eles serão amplificados, caso contrário a ação é diminuída ao longo do tempo.
21. AMBIÊNCIA
21.1. Medida para a influência ambiental nos traços que têm variação, dentro de uma população, em determinado ponto do tempo.
22. TIPOS DE AMBIENTE
22.1. Influência ambiental
22.1.1. Compartilhada
22.1.1.1. Aquele que os indivíduos compartilham. ex: irmãos que dividem o mesmo ambiente domésticos.
22.1.1.1.1. Tende a ser generalista
22.1.2. Não compartilhada
22.1.2.1. É único para cada pessoa. Pode ser desde um evento exclusivo até a maneira como o indivíduo lida com uma situação
22.1.2.1.1. Tem influência especialista. Pode promover ou eliminar determinados traços
23. Os conceitos de INOVAÇÃO e AMPLIFICAÇÃO genética levam-nos a pensar enquanto educadores na importância em oferecer diversos estímulos, fornecendo um ambiente apropriado no desenvolvimento das habilidades
24. Da mesma forma as INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS alertam para estratégias de ensino personalizadas (personalização da educação) considerando as diferenças de cada aluno, promovendo a extração do potencial de cada um.
25. INTERAÇÃO: GENE-AMBIENTE
25.1. É inconcebível pensar em genética sem o ambiente
25.2. Resposta produzida pelo organismo em relação ao ambiente
26. CORRELAÇÕES ENTRE GENE E AMBIENTE
26.1. Existe quando duas variáveis se comportam da mesma maneira ao mesmo tempo
26.2. Resposta do ambiente em relação ao organismo
26.3. TIPOS DE CORRELAÇÃO
26.3.1. PASSIVA
26.3.1.1. Ocorre quando o efeito do ambiente que os pais oferecem aos seus filhos também é efeito dos mesmos genes que pais compartilham entre si
26.3.1.1.1. Sem que seja necessário grandes esforços individuais os filhos aprendem alguma habilidade simplesmente por estarem naquele ambiente
26.3.2. REATIVA OU EVOCATIVA
26.3.2.1. Pré disposição genética do indivíduo fará com que as pessoas reajam a ele de maneira a fomentar o traço que ele apresenta
26.3.2.1.1. Ex: crianças habilidosas para a natação, os pais levam elas a lugares que favoreçam a prática
26.3.3. ATIVA
26.3.3.1. Ocorre quando os indivíduos vão buscar ativamente pelos ambientes que atendam suas pré disposições genésticas
26.3.3.1.1. Indivíduos que gostam de música buscarão por ambientes que a favoreçam
27. TEXTO: DETERMINISMO NA EDUCAÇÃO HOJE
27.1. Muitas vezes somos dominados por práticas deterministas.
27.1.1. DETERMINISMO
27.1.1.1. Generalização do princípio de causalidade
27.1.1.2. Arma sedutora contra o que foge do nosso controle
27.1.1.3. Requer que passado e futuro sejam fixos
27.2. PENSAMENTO DETERMINISTA
27.2.1. Possui caráter sedutor controlador
27.2.2. Ideia principal
27.2.2.1. deve haver uma razão, é possível ou definir o que causa e o que resolve
27.2.3. Necessário dominar ou contrololar as causas
27.2.3.1. Explicação, compreensão do fenômeno
27.2.4. Para os determinista o estudo pode ser a razão do sucesso, assim deve ser controlado. Devemos então, encontrar um método, um sistema de ensino capaz de controlar a aprendizagem
27.3. POSSIBILIDADES DE PENSAR O DETERMINISMO
27.3.1. Concebê-lo em sua condição múltipla
27.3.2. Multiderteminação
27.3.2.1. pensamento e prática de considerar as coisas humanas e vivas como podendo estabelecerem, ou não, de muitos modos pois variam
27.3.3. Indeterminação
27.3.3.1. Certos fenômenos por sua complexidade... não provém de um único e melhor lugar, pois apenas seus efeitos são observáveis.
27.3.3.1.1. Valorização dos acasos, contingências, múltiplas possibilidades de algo ser ou acontecer.
27.3.4. Autoderteminação
27.3.4.1. correspondência com o que Piaget chama de autorregulação ou processos de equilibração
27.3.4.1.1. Disponibilidade para se desenvolver enquanto ser humano
